GUILHERME W. MACHADO
O
cinema como palco sempre foi uma questão tentadora na carreira de Woody Allen. Daí
partiu a confusão recorrente de que o cineasta fazia “teatros filmados” – uma baboseira
que, não fosse tão absurda, nem valeria o comentário –, numa falha generalizada
de perceber que seus filmes apenas partem de bases teatrais (os diálogos como alicerce
que movimenta a narrativa) para chegar ao cinema (decupagem, close-ups,
temporalidade fragmentada, etc), linguagem na qual Allen é traiçoeiramente bem
versado.
Em
Roda Gigante essa “trama”, que se estende
ai por algumas décadas, ganha uma nova reviravolta: Allen não mais dedica a
influência teatral no seu cinema pela astúcia dos diálogos, mas para fazer da sua
vasta herança dramatúrgica palco para a encenação máxima da atriz-protagonista,
que – conscientemente ou não – conduz constantemente o roteiro de sua vida
dentro dos moldes trágicos. Allen foi malandro o suficiente para nos chamar
atenção sobre o recurso ao colocar o salva-vidas (Justin Timberlake) como
suposto artista criador, sugerindo que os acontecimentos narrados sejam moldados
por ele, quando, na verdade, o são pela mulher que lhe serviu de inspiração
(algum tipo de inversão da típica figura da musa), a Ginny de Kate Winslet.
“Isso
é um papel”, clama Ginny, sobre a situação dela mesma, enquanto apela ao seu parceiro de um
romance escondido, que aos poucos vê escapando.
Em
termos de texto, o que torna Roda
Gigante realmente interessante é a complexidade com a qual Allen constrói os
personagens e suas motivações. Woody Allen geralmente divide seus personagens
em dois grupos: os planos, cujas ações são perfeitamente previsíveis e cujo
pensamento é óbvio (geralmente caricaturas, coisa que o cineasta usa bastante);
e os complexos, que realmente interferem na trama e trabalham, de uma forma ou
de outra, as questões morais tão recorrentes no cinema do autor. Nesse filme,
não é difícil identifica-los: Humpty, marido de Ginny, pertence ao primeiro
grupo, enquanto Ginny e Mickey pertencem ao segundo, com Caroline sendo um
híbrido intrigante dos dois.
O
Mickey Rubin, de Timberlake, é um personagem cujas emoções raramente passam por
verdadeiras (não por intenção do mesmo, provavelmente por falta de conhecimento
dele pelos próprios sentimentos). Sua atração por Ginny parece muito mais
ligada ao apelo que os dramas por ela carregados têm ao seu lado dramaturgo. Ele
é apaixonado pelo personagem dela que ela representa na sua vida, não pela
pessoa. Algo semelhante é o que sente por Caroline (Juno Temple); por mais que
ali haja ainda alguma atração física verdadeira, o sentimento de fascínio pela
figura e história de vida da mesma parece o elemento primário do interesse
dele.
Já
Ginnny é um caso ainda mais intenso de criação das suas próprias narrativas.
Não acredito, também, que o amor dela por Mickey fosse completamente genuíno (embora ache que
ela realmente acreditava que fosse), mas sim um refúgio emocional do seu
trágico histórico matrimonial e, principalmente, uma esperança de recomeço – o filme, aliás, brinca o tempo inteiro com essa ideia de recomeço, formando uma estrutura cíclica que nunca sai do lugar, daí a alegoria da roda gigante. Uma
utópica fuga romântica para Bora Bora. O que torna ela uma personagem
tão envolvente é justamente a dúvida que paira sobre quase todas suas ações e reações. É óbvio que seu desespero é verdadeiro, bem como seus traumas e
decepções, mas tudo isso é apresentado por ela de forma intensamente (re)encenada. Giny ao ter que abandonar os palcos (era atriz de teatro), incorporou-os a sua vida, e
viveu encarnando diversas personagens para melhor suportar sua realidade. É
certamente uma das figuras mais trágicas e dignas de compaixão já criadas por
Allen, junto, talvez, da Dolores de Angelica Huston em Crimes e Pecados (1989), e de um outro punhado de personagens
femininas notáveis em sua carreira.
É,
inclusive, o lado feminino tão latente do cinema de Allen que faz com que ele
apresente de forma tão franca os dramas de Ginny. Ignorada pelo marido (que,
especialmente com o retorno da filha antes deserdada, volta toda sua atenção
emocional e financeira para o conforto da mesma). Insensivelmente descartada
pelo amante que lhe alimentou de esperanças até que esse tivesse achado um
objeto de estudo e adoração mais interessante. Tratada como louca ou histérica
por ambos, quando tentava chamar atenção dos mesmos para seus problemas e
sensibilidades. Tudo isso, somados aos graves problemas psicológicos que ela
mesma infligiu ao filho pequeno, atormentou Ginny até que sua alma tivesse seca
o suficiente para que ela fosse capaz de cometer aquele terrível e desumano ato ao fim do filme, contra justamente aquela outra mulher que era tão vítima das circunstâncias e das próprias
escolhas quanto ela mesmo fora no passado, Caroline.
Allen
constrói esse complicado panorama de questões morais (coisa que no fim sempre
foi o foco de seu cinema) através de uma de suas mais aguçadas mise-en-scènes
dos últimos 20 anos – certamente a sua mais arriscada desde Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993). As luzes e cores fortes do diretor de fotografia Vittorio
Storaro nada mais são do que uma radicalização da busca de Allen nessa última
década por um visual mais pictórico (particularmente influenciado pela pintura
do início do século XX), mas o que torna sua direção tão poderosa em Roda Gigante é mesmo a proximidade com
a qual a câmera acompanha os atores – diferente do que fez em parte
considerável de sua carreira, quando era mais econômico nos closes –, bem como
a elaborada distribuição desses mesmos atores dentro do (escasso) espaço cênico,
aprimorando as referências claustrofóbicas que Uma Rua Chamada Pecado tão frequentemente exerceu na sua carreira.
Uma
dúvida final, já que o filme é tão carregado em dilemas éticos para os quais eu
(e acredito que Allen também) obviamente não tenho as respostas: era justo que
Ginny depositasse em Mickey, um breve romance de verão, todas suas esperanças
por salvação? Não que uma coisa justifique a outra (nem ela a ele e nem ele a
ela, todos personagens tem responsabilidades graves sobre o trágico destino
que acometeu Caroline), mas não deixa de ser interessante ponderar sobre essas
dúvidas que Allen lança, intencionalmente não resolvidas. Filmaço.
NOTA (4/5)
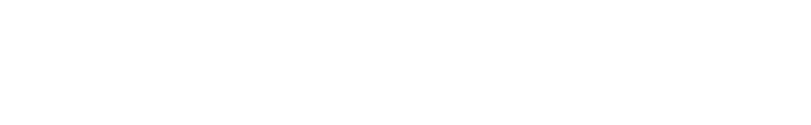






Comentários
Postar um comentário